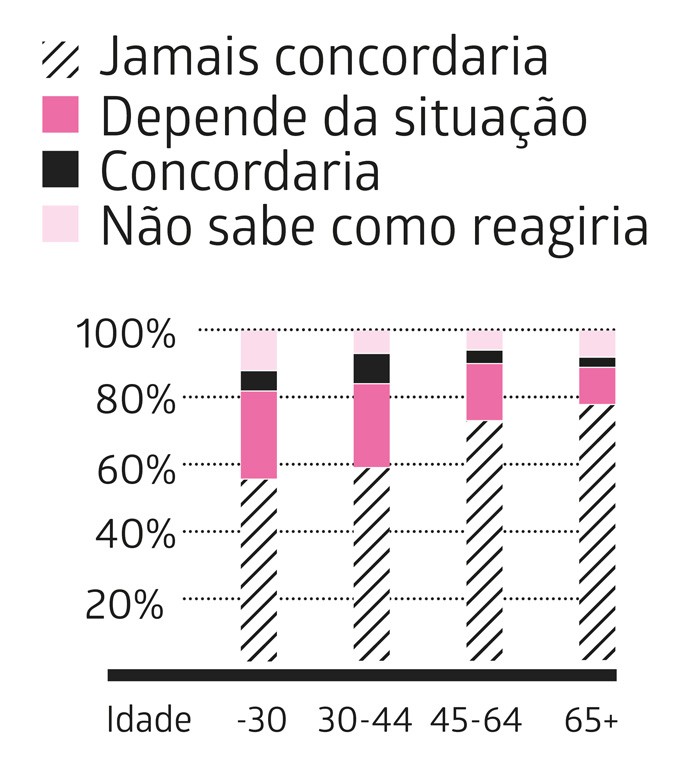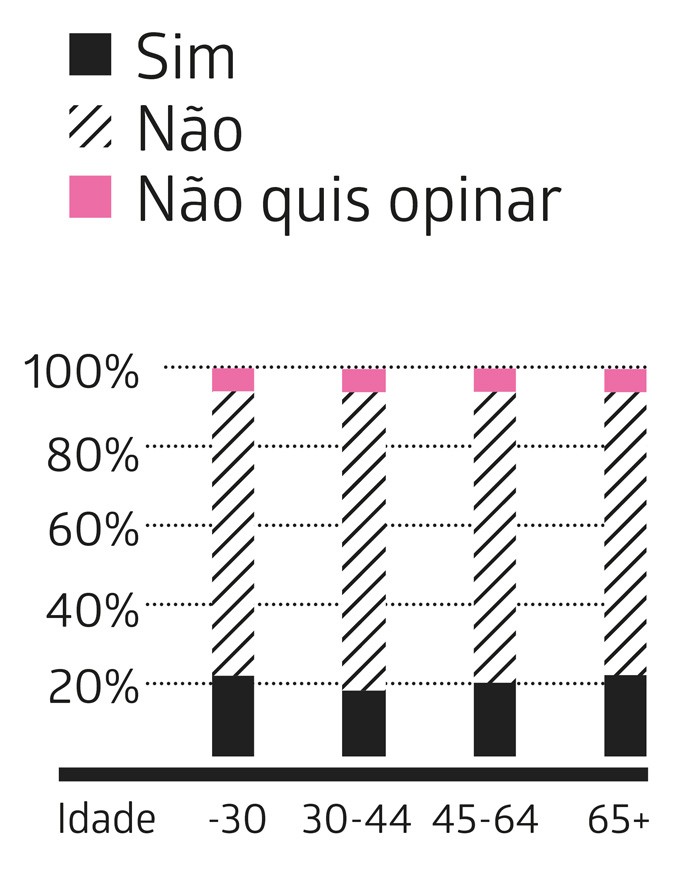Está na hora de legalizar as drogas?
Ações repressivas na Cracolândia de São Paulo e a liberação da maconha em vários países alimentam o debate sobre a melhor política para reduzir os danos das drogas
Alexandre Mansur e Giovanna Wolf Tadini
(Ilustração: André Ducci)
Debatedores: Ana Paula Pellegrino e Ives Gandra da Silva Martins
Barbárie. Limpeza. Truculência. Segurança. Esses foram alguns dos adjetivos mais comuns nas redes sociais na esteira da ação realizada no dia 21 de maio pelas polícias Civil e Militar de São Paulo na região da “Cracolândia”, no centro da capital paulista. O objetivo da empreitada foi acabar com o tráfico e a concentração de dependentes. Apesar dos números da operação – 38 suspeitos de tráfico presos, 10 quilos de crack e três fuzis apreendidos, 300 pessoas encaminhadas para abrigos –, o principal resultado dela é mostrar o grau de complexidade de qualquer tentativa de lidar com a dependência química na sociedade. Cresce no Brasil e no mundo o debate sobre alternativas à abordagem meramente repressiva para o problema. Nos Estados Unidos, depois de uma revisão da “guerra às drogas” iniciada na década de 1970, nos últimos cinco anos a maioria dos estados descriminalizou a maconha de alguma forma. Eles seguem um modelo adotado pela Europa, de tratar o consumo como questão médica e não de segurança pública. No Uruguai, a maconha foi legalizada desde a produção até o consumo. No Brasil, a descriminalização das drogas está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Em nosso país, um grupo cada vez mais expressivo de pesquisadores, profissionais de saúde e políticos propõe a regulamentação das substâncias hoje ilícitas, de acordo com o grau de periculosidade de cada uma. Outro grupo acredita que a medida seria ruim, pois incentivaria o consumo, agravando o sofrimento de usuários e familiares, além dos custos da saúde pública.
É importante frisar que, neste debate, ninguém defende a liberação total de todas as drogas. No Brasil, o Instituto Igarapé vem liderando discussões em torno da descriminalização do consumo e da regulamentação da venda de algumas das substâncias hoje proibidas, respeitando o grau de risco de cada uma. Por essa proposta, drogas como o crack continuariam proibidas e outras, como a maconha, teriam um uso menos restrito. O debate ganhou peso com a adesão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. “Nosso norte é buscar experiências que têm gerado resultado”, diz Ana Paula Pellegrino, pesquisadora do Instituto Igarapé. O jurista Ives Gandra, uma das vozes proeminentes da postura mais cautelosa, também entende que o consumidor que se vicia não deve cumprir pena num presídio com outros bandidos experientes. Para ele, a detenção do dependente deveria ser em clínica de recuperação. Ele afirma, no entanto, que a descriminalização das drogas seria um passo equivocado. A título de desmontar a máquina do crime, ela estaria alimentando o consumo ilimitado.
ÉPOCA – Devemos liberar e regulamentar as drogas?
Ives Gandra Martins – Eu, pessoalmente, tenho alguns sentimentos contra. Tenho ouvido argumentos ponderados, inclusive do próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas entendo que, ao legalizar as drogas, teoricamente estaríamos nos afastando da criminalidade daqueles que as exploram e têm um mercado lucrativo. Por outro lado, estaríamos estimulando o vício. Por exemplo, existem movimentos hoje na Holanda repensando a legalização. Isso porque, em vez de reduzir o consumo de drogas, houve aumento. Indiscutivelmente, dizer que o consumo de uma dose não vai tornar o cidadão dependente não procede. Nós sabemos perfeitamente que a tendência de criar dependência é muito grande. A meu ver, seria incoerente pensarmos que para determinados remédios que geram dependência haja necessidade de receita médica, enquanto para drogas que geram uma dependência muito maior nós possamos legalizar o uso. Essa é uma posição antiga minha. Evidentemente, numa democracia é preciso ouvir todas as posições. Mas eu não tenho por que mudar a minha.
Ana Paula Pellegrino – Com todo o respeito à opinião do doutor Ives, sou do campo oposto. Aqui no Igarapé temos colhido dados e acompanhado diversas experiências pelo mundo. Entendemos que, se hoje nossa sociedade fosse pensar em políticas para lidar com a questão da dependência, jamais teríamos desenhado as políticas da maneira como elas estão. Defendemos a regulação responsável de drogas. A gente avaliou que existe um ponto ótimo de regulação a partir do Estado. Hoje, a gente não só proíbe as drogas, como criminaliza seu consumo. É importante chamar a atenção para isso porque a criminalização vai completamente contra qualquer prescrição que esteja preocupada com a saúde da pessoa que usa drogas. Eu, assim como o doutor Ives, me preocupo muito com essa questão de que estímulo a gente dá ao uso e ao abuso dessas substâncias e quais são os impactos que isso pode causar em nossa sociedade. O que a gente vê em dados concretos hoje é que criminalizar o consumo aumenta os danos às pessoas que usam drogas. O desafio que se lança é de voltar a esses nossos objetivos de manter a saúde e a segurança de nossas comunidades e redesenhar as políticas. Nossa leitura é que sim, temos de pensar em outros modelos de regulação responsável de drogas. Mas agora para o Brasil o primeiro passo muito importante é a descriminalização do consumo. O caso da Holanda, que o doutor Ives trouxe, é uma situação em que não há uma regulação completa do mercado. Lá só é legal a venda para o usuário final. Mas o fornecimento para as lojas não foi regulado. Na Holanda, houve uma regulação forte para a maconha. Isso foi uma política pensada para reduzir o uso de drogas mais pesadas, como as injetáveis. A política foi criada quando a Europa passava por uma crise de overdose e abuso de heroína. Essa crise diminuiu. Por um lado, aumentou o uso de maconha, porque ela se tornou mais acessível. Por outro lado, a maconha causa menos danos do que as drogas injetáveis. Foi feita uma opção política por uma terapia de substituição. E, nesse aspecto, a política da Holanda foi considerada um sucesso.
Ives Gandra – Respeitando o que disse a doutora Ana Paula, em primeiro lugar, você estava falando do caso da Holanda. É evidente que a droga mais barata é mais consumida que a mais cara. A droga barata causa menos danos, mas não deixa de criar dependência. O grande desafio é o combate ao narcotraficante. O simples fato de existirem políticas para eliminar dependência demonstra que ela não é desejada para a sociedade. Uma sociedade que entende que uma das formas de felicidade é o consumo de drogas está condenada a não progredir. Vamos usar como exemplo a Cracolândia. Lá existem pessoas de baixo potencial econômico, viciadas. Esses que estão lá precisam de tratamento médico. Eles não precisam de uma postura como: “A partir de agora vocês estão tranquilos. Não terão problema nenhum. Podem consumir [as drogas]. E poderão continuar vivendo na Cracolândia sem ter de gastar uma fortuna com a criminalidade”. Embora eu reconheça que o combate ao narcotráfico não tem sido eficiente, também entendo que precisamos encontrar caminhos para tentar controlar o crime nesse setor. O consumo de drogas é sempre negativo para a saúde, independentemente do potencial da substância. Eu tenho a impressão de que o melhor caminho é evitar. É fazer políticas adequadas nesse combate. Ao mesmo tempo existe hoje a jurisprudência de o pequeno usuário não ter sua criminalização, respeitando a orientação do Supremo [Tribunal Federal]. O narcotráfico tem de ser combatido, mas não com a liberação das drogas. Com uma liberação, eles não terão objeto e encontrarão outras formas de criminalidade.
ÉPOCA – Como os senhores veem a proposta de criar uma política que estabelece uma gradação das restrições de acordo com o grau de periculosidade de cada droga? Faria sentido?
Ana Paula – Temos de pensar especificamente para cada droga. Existem alguns estudos no Brasil que avaliam os efeitos da terapia de substituição da droga mais pesada pela mais leve. Aqui partimos da compreensão de que existem diferentes consumos de drogas. Há a droga com objetivo terapêutico, medicinal, com um fim específico. Em relação ao uso recreativo, existem o uso e o abuso. Nem todo uso de drogas é problemático. Dados qualitativos contestam uma informação que o doutor Ives colocou sobre a Cracolândia. Lá aparecem pessoas de terno, que vão, usam a droga e seguem suas vidas normalmente. Em relação ao crack, como é uma droga de alta periculosidade, a gente tende a achar que ele não poderia ficar sob o controle do mercado. No caso do crack, deveria haver um controle direto e agressivo do Estado. O modelo para isso é o de buscar redução de danos e distribuição terapêutica da substância de forma controlada. As drogas mais leves já podem ter menos controle do Estado. Há pessoas que nunca vão deixar de usar drogas. Muitas vezes não cabe a nós esse julgamento moral a partir da lei. Discordando do doutor Ives, hoje em dia no Brasil o consumo de drogas ainda é crime. Não gera pena de prisão, mas sobrecarrega o sistema de justiça criminal e as forças de polícia, por causa de uma orientação muito voltada para esse pequeno consumo.
Ives Gandra – A pessoa que começa a consumir a droga tem a certeza de que vai controlar perfeitamente seu consumo. Mas o que ocorre na prática é que a pessoa cada vez consome mais, até o momento em que não consegue controlar e passa a usar drogas que dão mais êxtase. Isso com o drama que se cria para a família. Fica difícil reconhecer o limite. Essa é a razão pela qual qualquer campanha de esclarecimento muitas vezes não surte o efeito necessário em relação ao jovem que já teve a primeira experiência com as drogas. Por essa razão, doutora Ana Paula, sem querer contestar sua procura por uma solução adequada para esse problema, eu prefiro continuar com minha posição de combater e melhorar o sistema de controle para que o usuário de pequena dose, seguindo a jurisprudência do Supremo, seja submetido a tratamento, e não à criminalização.
ÉPOCA – Faria sentido rever dentro de uma nova política todas as substâncias que podem gerar dependência e consequências para a saúde, inclusive o álcool?
Ives Gandra – Uma das estratégias para o álcool é a tributação. Ela é elevada nas bebidas de alta dosagem alcoólica. Com isso, o consumo das bebidas de maior teor alcoólico é menor que o daquelas de teor mais baixo. Quase todo mundo toma cerveja, que tem a dosagem alcoólica menor. Mas também pode surgir a dependência. De qualquer forma, não compararia o álcool com outras drogas que geram a dependência como remédios para depressão. No caso delas, alguns médicos aconselham a manter o consumo só com prescrição médica. A grande questão é a dependência. Quando o cidadão se torna dependente, ele compromete seu futuro. Ele pode perder o emprego, destruir a família. É alguém que fica à margem da sociedade. Evitar que isso aconteça é nosso grande desafio.
Ana Paula – A posição é a mesma quanto ao álcool. Precisamos olhar para todas as drogas de acordo com o risco que elas apresentam. Não temos uma relação saudável com o álcool enquanto sociedade. A gente teve alguns avanços com o tabaco. Diminuímos o número de pessoas que fumam no Brasil, com intervenções muito pautadas em prevenção e informação. A gente não faz isso com o álcool. Nós temos a taxação, melhoramos nas propagandas, mas temos muito a avançar. E a solução não é criminalizar o álcool. Os Estados Unidos passaram pela época da proibição de álcool nos anos 1930 e foi a única vez que registraram o uso injetável de álcool. O resultado foi que as pessoas desenvolveram usos ainda mais danosos dessa substância. E ainda houve o aumento do crime organizado. Existem experiências que dão resultados. A gente tem de olhar para elas e com isso construir modelos de fato orientados pela questão da saúde pública e da segurança de nossas comunidades.